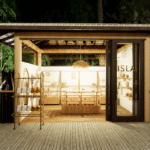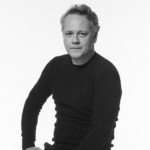A atriz palestrou no TEDxGuarulhos discutindo crise climática e divide, em entrevista exclusiva, os limites éticos da aceleração tecnológica



Nos últimos anos, Jacqueline Sato tem vivido uma fase de grande visibilidade no audiovisual brasileiro, enquanto aprofunda sua atuação em causas ambientais. Depois de deixar sua marca na novela “Volta por Cima”, da Globo, e de tirar do papel “Mulheres Asiáticas”, programa coproduzido com a NBCUniversal, que estreou no E! Entertainment e hoje está na Universal+ no Prime Video, ela se prepara para o lançamento do novo longa “Uma Praia em Nossas Vidas”. Mesmo com essa agenda intensa, incluindo a produção executiva do curta-metragem “Amarela”, incluído na shortlist do Oscar, sua relação com o meio ambiente não perdeu força, e acabou se tornando parte estruturante de sua presença pública.
No domingo passado, a artista participou do TEDxGuarulhos Countdown, realizado no hotel Marriott. Em uma talk de dez minutos, abordou a crise climática e relatou experiências vividas com comunidades indígenas da Amazônia. Para ela, essas vivências ampliaram a compreensão sobre a dimensão humana da emergência ecológica e revelaram conexões profundas entre território, cultura e clima.
“Os povos da floresta têm consciência do Todo, da interligação de tudo o que há no universo e como cada ato interfere no restante. É um saber ancestral que é sentido no cotidiano deles. Nós, humanos urbanos, fomos nos afastando disso. Com a produção em massa e a industrialização, isso tudo ficou mais distante e fragmentado. Para quem vive na floresta, a mudança no bioma afeta diretamente no que eles terão para comer, ou não, se terão água para beber, se banhar, ou não. Pra nós, que vivemos nos centros urbanos, que temos acesso ao alimento nos corredores dos supermercados, todos divididos por sessão, tendo acesso a alimentos, inclusive, fora ‘de época’, digamos, que se torna mais difícil sentir o impacto. Quando sentimos, sentimos no bolso e, mais uma vez, a população mais vulnerável é a mais prejudicada. Isso é só um exemplo simplista, mas que ajuda a ilustrar as diferenças. Quem vive na cidade, e trabalha em escritório passa mais de 90% do tempo em ambientes fechados, o que comprovadamente faz mal para a saúde física e mental, e colabora para que a ‘natureza’ faça menos parte do nosso dia a dia. Só que, o que os povos originários sabem e não se esquecem jamais é que nós somos natureza, não há essa divisão. Para muita gente que já se sente desconectada da Natureza, é como se fosse ‘eu aqui, a natureza ali’. Outra parte que me chama muita atenção e que amei conhecer mais profundamente é sobre a espiritualidade, e não posso generalizar, obviamente, mas dentro das tradições Lakota (indígenas norte americanos), e Yawanawa (indígenas da região do Acre), que pude conhecer mais de perto, e pelo que li de muitas outras tradições, além de terem a consciência da interligação de tudo, sabem que tudo tem espírito: o fogo, a água, as pedras, as plantas, os animais, a terra, o vento, tudo! Há o respeito a tudo o que os cerca. E o cuidado com a mãe natureza, que é quem provê tudo o que precisamos. Sabem, e vivem no dia a dia tanto a sua abundância, quanto o desequilíbrio e escassez quando ela está sendo explorada de uma forma desrespeitosa e de forma antinatural — que não permite sua própria regeneração, recuperação. Não possuem o desejo, nem a lógica do acúmulo, vivem sobre a lógica da reciprocidade, um princípio fundamental que organiza a vida social, econômica e cultural dos povos originários, baseada em trocas e interconexões, e não em relações monetárias. Ela se manifesta na relação de respeito e cuidado com a terra, na dinâmica comunitária da cooperação e compartilhamento de bens — o acúmulo excessivo de uns em detrimento de outros não é aceito socialmente na visão de mundo de quem sabe que a terra não é mero recurso a ser explorado, mas um ser vivo, sagrado e gerador de vida e de tudo o que é necessário”, declara a artista.
As imersões que fez na floresta com o Greenpeace, organização da qual é embaixadora desde 2021, contribuíram para transformar sua atuação ambiental em algo mais sistêmico. Em paralelo aos projetos no audiovisual, Sato tem usado sua visibilidade para falar sobre desmatamento, proteção dos povos originários, consumo consciente e desigualdades socioecológicas. Seu discurso dialoga com ecofeminismo e mudanças de hábitos cotidianos, como alimentação e escolhas de moda, sempre com ênfase na responsabilidade coletiva.
“Fui com o Greenpeace em uma missão para o alto do Rio Negro, ficando dias na comunidade do Tumbira, e posso dizer que, mesmo antes, de longe, eu já estava agindo e buscando proteger esse território tão importante para todos nós. Mas pisar no próprio território, conhecer as pessoas que vivem nele, sentir a magnitude, a biodiversidade, a riqueza e toda a força e fragilidade que existe ali, me preencheu de vontade de realizar muito mais enquanto ativista e pessoa pública. Uma coisa é o que a gente imagina — e no meu caso, já me sensibilizava —, outra coisa é vivenciar e sentir a realidade. Isso potencializou e aprofundou minhas ações. Creio que artistas são pessoas cujas opiniões, modo de vida, o que fazem, o que não fazem, acabam sendo notados por mais gente, e isso pode impactar positivamente (ou não), inspirar, gerar reflexão, trazer mais gente para se envolver com determinada causa. Desde sempre, antes mesmo de escolher ser artista e comunicadora, essa causa já era parte de mim. Sabia que, dentro da profissão que eu escolhi, poderia jogar luz a assuntos e situações que eu considerasse importante e tinha isso como meta, para além do sucesso profissional. Fico feliz que, hoje, eu esteja realizando isso de uma forma cada vez mais estruturada e eficiente. Acho que cada um de nós, sendo artista ou não, pode se conectar com algo que gostaria de ver ‘melhor’ no mundo, e usar uma parte da sua existência para nutrir a transformação na direção daquilo que se acredita. Uns terão impacto dentro de suas famílias, amigos, bairro, e isso também é super importante. E pessoas públicas, acabam podendo levar isso a um número maior de pessoas, então, seria maravilhoso que víssemos mais e mais pessoas engajadas”, ela comenta.
Sua trajetória ambiental também se entrelaça com a causa animal. A House of Cats, organização criada e coordenada por ela e sua mãe e dedicada ao resgate, reabilitação e encaminhamento para adoção de felinos, já acolheu mais de dois mil e oitocentos e cinquenta animais. O trabalho, que começou como uma resposta prática ao abandono, tornou-se um observatório das dinâmicas de descarte que acometem as cidades brasileiras. Ao lidar diariamente com histórias de negligência, Jacqueline passou a enxergar o abandono animal como expressão da mesma lógica que devasta ecossistemas, pressiona florestas e estimula ciclos de consumo cada vez mais rápidos. Para ela, cuidar de um gato ferido ou defender a Amazônia não são gestos desconectados, mas manifestações distintas de uma mesma disputa ética sobre o que a sociedade escolhe proteger e sobre o que aceita perder.
Sobre o tema, ela acrescenta: “Tanto no micro, quanto no macro, acredito que muitas pessoas sejam lideradas pelo ‘o que é melhor pra mim’, independente da consequência no todo. Seja nas decisões individuais, ou nas corporativas e/ou governamentais. É uma lógica do utilitarismo para tudo, sendo que os outros seres não existem para te satisfazer enquanto te fizer sentido, se formos pensar nos animais, e nem para ser explorados ou dizimados para o seu benefício próprio e ganancioso, gerando lucro para poucos e consequências negativas para o resto do mundo , como quando se fala de desmatamento. Acredito que precisamos de mais presença da própria população no debate, seja para cobrar e se posicionar diante das injustiças, quanto para agir, individualmente, de forma mais coerente com aquilo que pode trazer um futuro melhor para todos nós. Digo sempre que, enquanto consumidores, temos na nossa mão o que há de mais poderoso dentro dessa lógica capitalista vigente: o poder de compra. A cada item que escolhemos comprar estamos determinando para onde vai o nosso dinheiro, e quem está lucrando. Podemos passar a ter um consumo mais consciente, pesquisando mais profundamente as marcas que escolhemos, e se formos maioria migrando nosso consumo para marcas que possuam práticas mais éticas socioambientalmente falando, isso gerará consequências: veremos essas marcas crescerem e veremos as outras se incomodando e percebendo que uma grande parte da população está atenta e preferindo produtos que sejam menos prejudiciais ao todo. Você acha que se formos maioria, o mercado não vai mudar suas práticas? Claro que vai, afinal, seguirá querendo atrair clientes. Não podemos esquecer da nossa responsabilidade individual, do poder que temos nas nossas mãos, poder do coletivo e, também, de cobrar as lideranças. Mas para isso, precisamos estar atentos, e saber o que cobrar, e quando cobrar. Por isso, a convergência entre hábitos de consumo, aliança com ONGS e institutos de pesquisa confiáveis para que se tenha informação idônea, o debate e manifestação pública, são essenciais para uma mudança efetiva.”
Essas reflexões se aproximam do debate sobre o aceleracionismo. A corrente sustenta que intensificar as dinâmicas do capitalismo e da tecnologia poderia gerar rupturas transformadoras. Na prática, acelerar modelos de produção e consumo que já operam no limite implica ampliar pressões sobre florestas, territórios e recursos naturais. Também aumenta emissões de carbono, demanda por energia e volumes de lixo eletrônico, sobretudo diante da rápida obsolescência tecnológica.
Pesquisadores têm debatido a possibilidade de acelerar apenas a transição ecológica, sem reproduzir a lógica de extração e descarte. Para a atriz, a urgência climática exige velocidade, mas não às custas dos mais vulneráveis nem da integridade dos ecossistemas. A aceleração que interessa é a das energias renováveis, da proteção de territórios indígenas, da preservação da Amazônia e das políticas públicas que garantem justiça climática. Todo o resto, argumenta ela, aprofunda a crise.
“Esse debate todo é bastante polêmico. Mas é inevitável perceber o quanto o aceleracionismo já tem desestabilizado indivíduos e estruturas, o quão perigoso é, o extremismo que ele leva, a desumanização é, justamente, a não-preocupação com o outro, com o todo. O que se quer, dentro dessa lógica, é justamente o contrário. É acelerar o colapso, a crise, e uma transformação mais rápida que, com certeza, prejudica a maioria. Pensando nos limites ecológicos, ou a gente respeita e cuida, ou quem sairá mais prejudicada é a humanidade e, claro, muitos outros seres. Sabemos que esse nosso planeta já viveu muitas eras, muitas extinções e transformações ambientais e geográficas, se não agirmos rápido, viveremos as consequências desse desequilíbrio criado e negligenciado. Vimos a aceleração tecnológica, o olhar de muitos voltado a essas novidades, e uma fuga de muitos em olhar a urgência do colapso ambiental. Muita gente não quer olhar, acha que não pode fazer nada em relação a isso, e aí a coisa só piora. É mais fácil se isentar de responsabilidade. É mais fácil viver na distração e no volume de entretenimento, prazer, produtos que o mundo contemporâneo oferece, mas quanto mais envoltos disso estamos, mais alienados podemos ficar dos acontecimentos socioambientais. Se há algo que precisamos assistir de perto e cobrar celeridade é a demarcação de mais territórios indígenas — afinal, povos indígenas protegem cerca de 80% da biodiversidade restante do planeta (IPBES / ONU) —, é a fiscalização e punição por desmatamento, é a consciência coletiva, governamental, empresarial e civil, em relação aos atos que podem melhorar ou piorar a vida no planeta”, Jacqueline conclui.